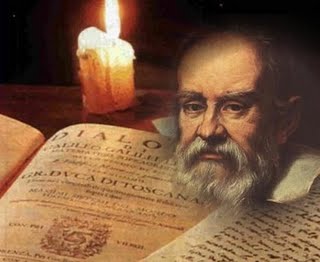
O Humanismo é a segunda escola literária medieval, e corresponde ao período de transição da Idade Média e o Renascimento. Um de seu marcos inicial foi à nomeação de Fernão Lopes como Guarda-Mor da Torre do Tombo, local onde eram guardados os documentos oficiais, e como cronista-Mor do reino, quando recebeu do rei de Portugal D. Duarte a missão de escrever a historia dos reis anteriores.
Características
Os artistas começaram a dar mais valor às emoções humanas. O homem desse período passa a se interessar mais pelo saber, convivendo com a palavra escrita, adquire novas idéias e outras culturas, sobretudo, o homem percebe-se capaz, importante e agente. Acreditando-se dotado de "livre arbítrio", isto é, capacidade de decisão sobre a própria vida, afasta-se do teocentrismo, assumindo, lentamente, um comportamento baseado no antropocentrismo, ou seja, o homem passou a ser o centro de tudo e não mais Deus. Isto implica profundas transformações culturais, de uma postura religiosa e mística, o homem passa gradativamente a uma posição racionalista.
O Humanismo funcionará como um período de transição entre duas posturas. Por isso, a arte da época é marcada pela convivência de elementos espiritualistas (teocêntricos) e terrenos (antropocêntricos). A cultura religiosa passou a conviver com a cultura profana, isto é, a cultura que se desenvolveu fora da igreja, entre o povo.
A criação de peças teatrais profanas (com temas não religiosos) como um meio de divertir, mas também de ensinar, além da produção de crônicas que colocavam o povo como agente da história foram feitos literários importantes do Humanismo em Portugal.
Contexto Histórico-Cultural
No final da Idade Média, Portugal estava passando por profundas transformações. O desenvolvimento de outras atividades econômicas estimulou a crise do sistema feudal e deu início ao chamado mercantilismo – a economia de subsistência é substituída por atividades comerciais. Surgem as pequenas cidades, chamadas burgos, e com elas uma nova classe social, a burguesia.
Muitas descobertas são feitas, entre elas a invenção da imprensa (em 1448, por Gutenberg) e de instrumentos relacionados à expansão ultramarina. Mas a Revolução de Avis (1383-1385) foi o marco cronológico da consolidação do Estado Nacional Português. Através dela se estabelece a política centralizadora do poder nas mãos do rei, respaldada pela burguesia mercantilista. A partir da primeira conquista ultramarina portuguesa, a Tomada de Ceuta, em 1415, inicia-se o período das Grandes Navegações, que consolidam o nacionalismo português.
Produção Literária
Poesia Palaciana
Era a poesia produzida no ambiente dos palácios, feita por nobres e destinada à corte. Entre suas principais características estão:
· separação entre música e texto – a poesia destina-se à leitura. Assim, a própria linguagem é responsável pelo ritmo e expressividade
· utilização dos redondilhos – versos compostos por cinco (redondilhos menores) ou sete sílabas poéticas (redondilhos maiores).
Prosa
Crônicas: registravam a vida dos personagens e acontecimentos históricos.
Fernão Lopes é a principal figura da prosa humanista, considerado o fundador da historiografia portuguesa. Sua importância se deve não só pelo aspecto histórico de sua produção, mas também pelo aspecto artístico de suas crônicas, apesar de regiocêntricas, o povo aparece pela primeira vez com co-autor das mudanças históricas portuguesa. Entre suas características destacam-se: a imparcialidade, o registro documental, a criticidade e o nacionalismo. São de autoria de Fernão Lopes:
· Crônica de El-Rei D. Pedro I
· Crônica de El-Rei D. Fernando
· Crônica de El-Rei D. João I
O Teatro de Gil Vicente
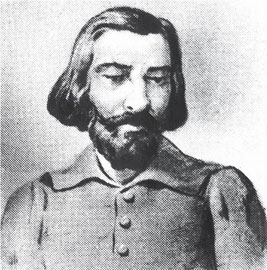
O teatro foi à manifestação litarária onde ficavam mais claras as características desse período.
Antes da produção gilvicentina é praticamente impossível falar-se em teatro. A manifestação teatral da Idade Média limitou-se a encenações de caráter litúrgico, presas aos ritos da religião católica. As encenações religiosas apresentadas no interior das igrejas dividiam-se em:
· mistério – representação da vida de Jesus Cristo;
· milagre – representação da vida de santos;
· moralidade – representações curtas com finalidade didática ou moralizante.
As encenações que ocorriam fora dos templos religiosos recebiam o nome de profanas e apresentavam um caráter mais popular e não estavam relacionadas aos cultos católicos.
Sua obra pode ser dividida em 2 blocos:
- Autos: peças teatrais cujo assunto principal é a religião, “Auto da alma” e “Trilogia das barcas” são alguns exemplos.
- Farsas: peças cômicas curtas. Enredo baseado no cotidiano, “Farsa de Inês Pereira”, “Farsa do velho da horta”, “Quem tem farelos?” são alguns exemplos.
Gil Vicente criticou toda a sociedade da época, suas peças apresentam indivíduos de todos os segmentos sociais. Só não criticou mordazmente a Família Real, da qual dependia. É importante destacar que todo o moralismo gilvicentino não é contra as instituições, mas contra os indivíduos que as corrompiam.
Gil Vicente inovou, mesmo escrevendo em redondilhos, não seguiu a rigidez do teatro clássico vigente. Suas representações apresentavam uma grande variedade temática, povoadas por inúmeros personagens, amplitude temporal e justaposição de lugares. Suas personagens não apresentam características particularizadas, ao contrário, são generalizações, estereótipos, que representam toda categoria profissional ou uma classe social.
A produção teatral de Gil Vicente divide-se em três fases:
Primeira Fase – marcada pelos traços medievais e pela influência espanhola de Juan del Encina. São desta fase: O Monólogo do Vaqueiro, o Auto Pastoril Castelhano, o Auto dos Reis Magos, entre outros.
Segunda Fase – aparecem a sátira dos costumes e a forte crítica social. São desta fase: Quem tem farelos?, O Velho da Horta, o Auto da Índia e a Exortação da Guerra.
Terceira Fase – aprofundamento da crítica social através da tragicomédia alegórica, da variedade temática e linguística, é o período da maturidade expressiva. São desta fase: A Trilogia das Barcas, a Farsa de Inês Pereira, o Auto da Lusitânia
Autores e Obras do Humanismo:
-Duarte Galvão: Crônica de D. Afonso Henriques
- Fernão Lopes: Crônica de El-Rei D. Pedro I; Crônica de El-Rei D. Fernando; Crônica de El-Rei D. João I.
- Garcia de Resende: Crônica Del-Rei D. João II
- Gomes Eanes Zurara: Crônica Del-Rei D. João I 3ª parte; Crônica de D. Pedro de Meneses; Crônica de Conde D.Duartede Meneses; Crônica dps feitos da Guiné.
- Rui de Pina: Crõnica de S. Sancho I; Crônica de D. Afonso II; Crônica de D. AfonsoIV.
- Gil Vicente: Monólogo do vaqueiro ou Auto da visitação; Auto da Índia; O velho da horta; Quem tem farelos; Auto da barca do inferno; Auto da barca do purgatório; Auto da barca da glória; Auto da alma; Farsa de Inês Pereira; Auto da feira; Auto da Lusitânia; Floresta de enganos.
A Farsa de Inês Pereira
A Farsa de Inês Pereira surgiu por volta de 1523, quando a autoria dos textos de Gil Vicente foi questionada. Ele, a fim de provar sua inocência, pediu que lhe dessem um tema qualquer para que produzisse uma peça. O tema dado foi um dito popular: “mais quero um asno que me leve que cavalo que me derrube”, expressão conhecida da célebre farsa. A peça era dividia em 4 partes principais (quadros) ou em oito cenas.
Resumo da peça:
Inês Pereira, jovem ambiciosa e namoradeira, cansada dos afazeres domésticos decide se casar, mas não com qualquer rapaz de sua classe social, deseja um casamento nobre, com um homem que seja galante, discreto e que saiba cantar. Recusa o casamento com Pêro Marques, que mesmo rico era camponês e casa-se com Brás da Mata, falso escudeiro que a maltrata após o casamento.
Com a morte do marido, a jovem casa-se novamente com o primeiro pretendente, mesmo sem amá-lo. Ingênuo e devotado, Pêro Marques não percebe a traição da mulher com um falso religioso e, na cena final da farsa, leva a própria esposa para os braços do amante, daí a frase: “mais quero um asno que me leve que cavalo que me derrube”.
Analise da obra:
A obra é uma peça profana, ou seja, com temas não religiosos, e mostra uma das características do humanismo que é a valorização das emoções humanas, a capacidade do homem fazer as suas escolhas e pensar por si próprio.
Essa informação foi muito boa ainda mais para os estudantes!
ResponderExcluir